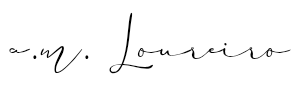Não sou um santo, mas sou mais santo que outros.
Não sou santo. Nunca e ninguém foi – somos todos irmãos. Mas talvez, entre tantas máscaras, tenha trilhado caminhos de esforço e sacrifício para não usar mais nenhuma — e isso, hoje, parece mais raro do que a própria virtude.
Alimento em mim falhas, vícios e fragilidades. Há dias em que não luto contra mim. Por rendição e por cansaço. Há algo de intrinsecamente humano no fracasso — um espelho que, mesmo rachado e sujo, reflete-nos com mais verdade do que qualquer ideal polido.
Também não sou um demónio. Nem um espectro à espreita da vulnerabilidade alheia. Há quem sorria com o corpo e esconda lâminas na alma. Quem se revista de moral aos domingos e negocie princípios à segunda-feira. Quem pregue o bem com os olhos cravados no proveito.
Vivemos entre pecadores que julgam outros pecadores por pecarem de forma diferente. E nisso há uma ironia crua, quase cega, que nos atravessa a todos, na irmandade dos pecadores. Eu, ao menos, desisti de disfarçar — e pago, com usura popular, o preço dessa transparência.
Há algo que me incomoda profundamente: os que rezam em voz alta e condenam em silêncio. Carregam terços e sentenças no mesmo bolso. Falam do perdão como se fosse propriedade privada; como se fosse um dom transmissível por superioridade moral.
Eu creio que não. Quando erro, não me disfarço de arrependido modelo. Quando julgo, começo por mim. Sou, tristemente, o meu próprio juiz, júri e carrasco. E nem sempre sou justo nem o meu melhor amigo.
Não, não sou um santo. Mas há santidades que assustam mais do que qualquer pecador.
E se, no fim, houver de facto um tribunal — seja ele divino, terreno, ou uma amálgama imperfeita de ambos — espero que se balance isto: que deixei de mentir sobre quem sou. Ainda que, por vezes, continue a mentir para mim. Que no retrovisor baço que levo comigo, a imagem que regressa é a minha — imperfeita, mas honesta.
Tropecei. Caí. Errei. E voltarei a errar. Por escolha, por fraqueza, por necessidade — não sei. Mas sempre tentando ser eu, e não o que o mundo esperava que eu fosse.
Quem sou eu, afinal? Ainda não sei. Talvez erre para descobrir.
Às vezes penso: e se conseguirmos ser apenas versões suportáveis dos nossos próprios defeitos? Vamos escondendo aqui, disfarçando ali. Aprendemos a dissimular o que em nós pulsa fora do compasso. Parte por sobrevivência. Parte por medo de sermos apedrejados — na praça ou no ecrã, tanto faz.
Eu, por exemplo, aprendi a sorrir quando queria desaparecer. A dizer “sim” quando já tinha desistido. A ser cordial quando a alma gritava. Não era virtude — era instinto. Se me chamavam ponderado, era apenas porque disfarçava bem a tempestade.
E escondem todos. Todos. O que se gaba de nunca ter traído talvez nunca tenha amado até doer. O que garante nunca ter mentido… mente agora. O mais perigoso nunca foi o pecador assumido — é o santo criado. Aquele que se ajoelha diante dos outros e esfola os seus iguais nas sombras.
Vejo isso nos olhos. Na pressa em parecer puro. Porque ninguém é tão limpo sem esconder lama debaixo das unhas.
Talvez — só talvez — eu esteja profundamente errado. Talvez esta lucidez seja apenas exaustão. Corpo jovem, espírito antigo. Talvez esta exigência comigo mesmo seja o espelho que enfrentei vezes demais… e que vezes demais derrotou-me.
Pode ser. Não sei. Não nego. Talvez julgar seja, também, um modo de fugir daquilo que tememos reconhecer em nós.
No fundo, sou apenas um homem com uma régua torta, a tentar medir um mundo desalinhado.
E, mesmo assim, continuo a tentar.
Não, não sou um santo. Mas ao menos, já não finjo mais que sou.